por Leneide Duarte-Plon
A historiadora Sandrine Mansour demole a versão sionista que
pretende justificar a tragédia dos palestinos
 |
| Imagens como esta, do massacre de Kafr Qasim, contribuíram para conter a violência israelense. Mas nem tanto |
De Paris
Para marcar os 50 anos da Guerra dos Seis Dias, de junho de
1967, quando Israel ocupou Gaza, o Golan, a Cisjordânia e Jerusalém Leste (até
hoje apenas Gaza foi desocupada), a ONG francesa Attac promoveu, em Paris,
juntamente com a Association France-Palestine Solidarité, a projeção do filme
La Terre Parle Arabe, de Maryse Gargour.
Depois do filme, o público debateu com a doutora em História
e pesquisadora franco-palestina Sandrine Mansour, autora, entre outros, do
livro L’Histoire Occultée des Palestiniens, 1947-1953. Assim como o filme, ela
desconstruiu os mitos fundadores do Estado de Israel, entre eles “a partida
voluntária dos palestinos para o exílio, influenciados pelos países árabes”.
“Desde o fim do século XIX, o Comitê do Movimento Sionista
encarregado de solucionar a expulsão dos palestinos chamava de transferência
essa futura expulsão”, explica Mansour em entrevista exclusiva a CartaCapital.
A Nakba, ou Catástrofe, como os palestinos denominam a
expulsão em diversas ondas, estendeu-se até a década de 1950. A primeira foi a
de 1945, depois vieram mais três. A de março de 1948 expulsou mais de 300 mil
palestinos. Depois, até os anos 1950, de 150 mil a 200 mil. Centenas de aldeias
palestinas sumiram literalmente do mapa da antiga Palestina.
A historiadora explica que hoje, na França, os sionistas
tentam assimilar qualquer crítica a Israel como antissemitismo, inclusive
quando franceses do movimento internacional Boycott Désinvestissement Sanctions
(BDS) conclamam ao boicote dos produtos israelenses para lutar contra o
apartheid dos palestinos. Eles podem ser punidos com multa e pena de prisão.
CartaCapital: Seu livro L’Histoire Occultée des
Palestiniens, 1947-1953 lança novas luzes sobre a história dos palestinos. Que
aspecto dessa história foi ocultado e por quem? Quais os mitos sionistas sobre
a Palestina e seu povo?
 |
Sandrine e seu livro A História Ocultada dos Palestinos
(Foto: Franck Tomps)
|
Sandrine Mansour: Como muitos conflitos no mundo, a história
escrita e disseminada foi a do vencedor, isto é, de Israel. Por outro lado, por
causa da responsabilidade europeia no genocídio dos judeus na Europa, esta
contribuiu nessa ocultação. Até porque a Europa teve, e continua a ter sob
outras formas, um espírito colonial como o sionismo, que é uma ideologia
nacional e colonial.
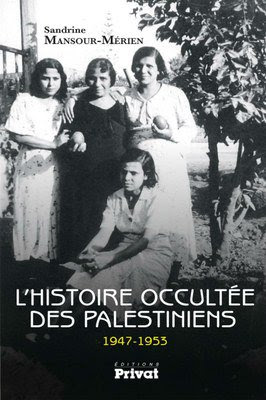 Por essas razões, a narrativa da história palestina foi
ocultada durante muitos anos. Somente nos anos 1980 vimos surgir os livros dos
“novos historiadores” israelenses que trabalharam com arquivos do Estado de
Israel e puderam confirmar o que diziam os palestinos e trazer detalhes
precisos (modo operacional, unidades sionistas ativas etc.).
Por essas razões, a narrativa da história palestina foi
ocultada durante muitos anos. Somente nos anos 1980 vimos surgir os livros dos
“novos historiadores” israelenses que trabalharam com arquivos do Estado de
Israel e puderam confirmar o que diziam os palestinos e trazer detalhes
precisos (modo operacional, unidades sionistas ativas etc.).
Por outro lado, como em todos os traumatismos, os palestinos
nomearam e dataram o mais significativo deles, a expulsão do maior número de
palestinos de suas terras. É a Nakba, a Catástrofe. Ora, se a palavra é
adequada, a data de 15 de maio de 1948 não é exata. As grandes expulsões
começaram realmente no dia seguinte ao voto na ONU de 29 de novembro de 1947,
que determinava a Partilha da Palestina. As expulsões prosseguiram por muitos
anos, mas pode-se dizer que a Nakba diminuiu de intensidade em 1953, com o
Massacre de Qibya.
CC: Por que diminuiu?
SM: Foi o início da generalização da foto de imprensa e a
imagem de Israel foi arranhada. Houve diminuição, mas não cessou, pois em 1956
houve outro massacre em Kafr Qasim. Depois, nova expulsão de palestinos em
1967. Em seguida as expulsões continuam, mas de maneira regular, surda, na
forma de demolições de casas, prisões, a construção do muro, colonização…
Entre os mitos há o da “terra sem povo para um povo sem
terra”, enquanto os sionistas sabiam muito bem que a Palestina tinha uma grande população.
Foi disseminado também o mito de que os países árabes
incentivaram os palestinos a partir, quando, na realidade, tratava-se de uma
limpeza étnica, como diz o título do livro do historiador israelense Ilan
Pappé. E esses mitos são numerosos nesse conflito duradouro.
CC: Em junho de 1967, depois da Guerra dos Seis Dias, Israel
ocupou a Cisjordânia, Gaza, o Golan e Jerusalém Leste. Por que essa ocupação
pôde continuar até hoje, com exceção de Gaza?
SM: Pela colonização que existe desde o início, pela
impunidade total, já que, apesar de diferentes resoluções da ONU condenando a
posse do território, Israel nunca foi obrigado a respeitar as leis. Além disso,
há uma enorme máquina de propaganda no mundo lembrando a responsabilidade dos
europeus durante o genocídio dos judeus, para impedir qualquer crítica à
política de expansão de Israel.
O americano Norman Finkelstein chama isso de a “indústria do
Holocausto”. E essa indústria de propaganda continua, já que hoje numerosos
países se opõem às críticas contra o Estado de Israel, confundindo-as com
antissionismo e antissemitismo. A crítica está cada vez mais controlada, o que
dá a Israel tempo para prosseguir seu projeto colonial e esmagar todos os
direitos dos palestinos.
 |
| O historiador israelense Ilan Pappé sustenta que o que houve foi 'uma limpeza étnica' (Foto: Geoffrey Swaine/Rex) |
CC: A expulsão dos palestinos é o tema do livro do historiador
israelense Ilan Pappé, Le Nettoyage Ethnique de la Palestine. Ele diz que, nos
anos 1920, os palestinos representavam entre 80% e 90% da população da
Palestina, então sob mandato britânico. Por que os palestinos não podiam ficar
nas aldeias que existiam no território atribuído pela ONU ao futuro Estado
judeu e como a demografia mudou?
SM: A demografia mudou pela chegada de grande número de
judeus vindos da Europa. Ajudados pelo governo britânico e, depois, pelos
Estados Unidos, os sionistas queriam se instalar na Palestina e reivindicaram
até mesmo outros territórios no momento da partilha do Estado Otomano. Mesmo a
Grã-Bretanha tendo limitado a imigração de judeus, esta continuou progressiva
de maneira ilegal.
As expulsões dos palestinos permitiram aos judeus tornar-se
maioria no território que lhes foi atribuído. Instauraram um sistema de
segregação que tornava os palestinos “ausentes”, mesmo que expulsos a apenas
100 metros. Enfim, por uma política repressiva que impedia aos palestinos
retornar às suas casas, incentivando ao mesmo tempo até hoje a imigração de
judeus para Israel.
Os palestinos já estavam fragilizados depois da repressão da
Grande Revolta de 1936, em face de um movimento sionista muito poderoso, armado
e financiado.
 |
| Finkelstein denuncia a 'indústria do Holocausto' (Foto: Chen Xu/FotoArena) |
CC: Como explicar o fato de os sionistas terem criado um
Estado judaico e o Estado da Palestina ser ainda, 70 anos depois do Plano de
Partilha, uma miragem para o povo palestino?
SM: Aceitando o Plano de Partilha, Israel não quis se
contentar com ele. Os textos das discussões internas da Agência Judaica mostram
bem que era uma estratégia para obter progressivamente mais pela guerra. A paz
teria estancado a anexação de terras. De fato, foram os sionistas que
convenceram os britânicos sobre o Plano de Partilha, primeiramente em 1922 e,
depois, em 1937.
Para eles, era preciso pôr a mão em uma parte do território,
reforçar sua instalação e, assim, prosseguir conquistando mais terras. Em 1948,
graças à guerra árabe-israelense, Israel conquista 78% do território, bem mais
do que o que lhe fora atribuído pelo Plano de Partilha de 1947.
Em 1967, Israel multiplica por quatro seu território em
alguns dias. Depois a colonização tem como objetivo criar um fato consumado
para garantir a conquista. O único problema é que hoje eles não podem expulsar
como em 1947 ou 1967. Então, isolam os palestinos em três zonas da Cisjordânia
e em Gaza.
E teve também a tomada do Golan, sem esquecer as guerras no
Líbano e a tomada do Sinai. E fato de a ONU nunca ter conseguido, através de
suas resoluções, impor a Israel o respeito ao direito internacional.
CC: Ilan Pappé escreve em seu livro: “Até a ocupação da
Palestina pela Grã-Bretanha em 1918, o sionismo foi uma mistura de ideologia nacionalista
e de prática colonial”. O sionismo de hoje tem outra imagem?
SM: Penso que não. Ele se tornou high tech (haja vista a
força deles na internet), mas o que há é fundamentalmente uma ideologia
colonial, racista também quando se vê como os israelenses tratam os judeus
imigrados dos países da África Negra. E ele é nacional no sentido em que a
religião judaica é a nacionalidade, antes de tudo. O projeto não foi alterado e
a política do fato consumado serve a seus interesses.
CC: Israel vangloria-se de ser a “única democracia” no
Oriente Médio. O conceito de democracia é adequado a Israel? E por que o país é
tão obcecado pela demografia?
SM: Não se trata de uma democracia, mas de uma teocracia na
qual a supremacia é dada aos judeus. Os palestinos que vivem em Israel se
tornaram israelenses depois de 1948, porém não gozam dos mesmos direitos, ainda
que tenham o direito de voto. É um sistema com diversos níveis, um apartheid
que recusa essa denominação.
É como se Israel tivesse construído uma fachada “democrática”
para agradar aos ocidentais (sim, pode haver artigos muito críticos na imprensa
de israel), mas isso convive com um sistema de discriminação no interior de seu
território (é proibido ensinar a Nakba nas escolas de Israel) e também nos
territórios ocupados, onde os colonos têm todos os direitos (são armados e
protegidos pelo Exército de Israel, como em Hebron), enquanto os palestinos não
têm.
A demografia é uma ameaça desde o início do projeto
sionista, já que o Comitê de Transferência tinha aconselhado que o número de
“árabes” (eles procuram ignorar a palavra “palestinos”) não deveria superar 20%
no território de Israel. Esse limite ainda em vigor não pode ser ultrapassado
e, por isso, o governo impede que famílias separadas entre a Cisjordânia e
Israel se reúnam em Israel.
Por isso eles querem deixar poucos palestinos na Zona C
(delimitada pelos acordos de Oslo), equivalente a 62% da Cisjordânia, para
poder anexar mais sem a população que se encontra amontoada nas zonas A e B, os
38% da Cisjordânia que corresponde a apenas 22% da Palestina histórica. Por
isso também estão demolindo as casas palestinas de Jerusalém Leste e colocando
colonos na cidade para mudar a demografia.
Um dos slogans dos sionistas entre eles era “mais terras e
menos árabes”, título de outro excelente livro do historiador Nur Masalha. Por
outro lado, utilizando a palavra árabe em vez de palestino, eles querem que os
palestinos, o mundo árabe e os ocidentais admitam que, como os árabes têm
vastos territórios, podem acolher os palestinos. Eles negam a especificidade, a
origem e a história dos palestinos.
CC: Há uma fratura na sociedade israelense? Penso nos
ex-militares da ONG Breaking the Silence, que denuncia a brutalidade da
ocupação, e a ONG B’Tselem”, que se apresenta como “um centro israelense de informação
para os direitos humanos nos territórios ocupados”.
SM: Essa fratura existe há anos. Ela foi mais forte nos anos
1990, depois da primeira Intifada. Contudo, os organismos israelenses que lutam
nesse sentido indicam que o movimento se enfraqueceu depois de 2000, momento em
que a “ameaça” iraquiana primeiro, depois iraniana, permitiu serrar fileira na
sociedade israelense como vítima potencial.
Por outro lado, a sociedade israelense está em plena crise,
econômica sobretudo, o que não facilita o desenvolvimento dessas ONGs. Elas são
perseguidas pelas autoridades, há leis e ações judiciárias contra eles. A
educação dada nas escolas mantém a ideia de que os palestinos são a causa de
todos os males. O cineasta israelense Eyal Sivan mostra essa situação em seu
filme Izkor: Ou les esclaves de la mémoire.
Para conhecer todas as publicações do Blog Sanaúd-Voltaremos, desde 2008, acesse o Arquivo na barra lateral.
Leia as últimas publicações do Blog Sanaúd-Voltaremos:


